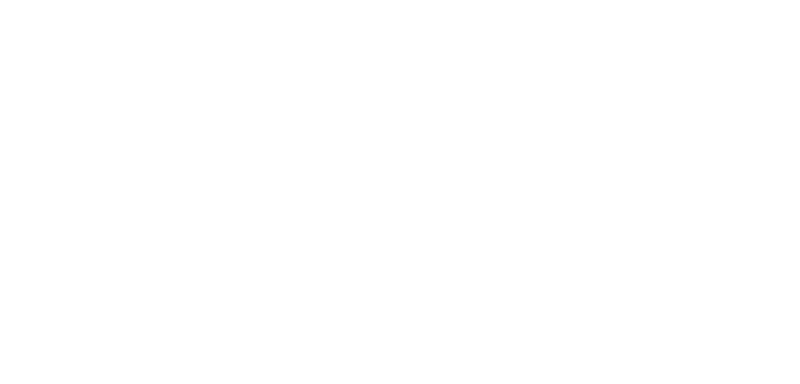Perspectiva indígena: uso da tecnologia e produção de dados em territórios tradicionais
SOBRE O PAINEL
Quando a primeira edição do livro “Povos indígenas no Brasil” foi publicada, em 1980, pelo Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi), o cenário era de escassez de informação.
“Esse trabalho de levantamento tinha como grande ímpeto colocar os povos indígenas no mapa, mapear as resistências e mostrar para a sociedade que não existia aquele vazio demográfico. Estávamos em uma época em que não existia essa disponibilidade de informações que temos hoje. Isso culminou no primeiro banco de dados organizado de povos indígenas do Brasil feito por uma organização da sociedade civil”, explicou Tiago Moreira.
Mestre em Antropologia Social, Tiago fez essa fala durante o painel “Perspectiva indígena: uso da tecnologia e produção de dados em territórios tradicionais“, que ocorreu no dia 27 de junho e marcou a abertura da edição regional da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais na Amazônia (Coda Amazônia) 2024.

Tiago é responsável pelo levantamento de dados sobre povos e terras indígenas no Programa Povos Indígenas no Brasil do Instituto Socioambiental (ISA), organização que deu continuidade à publicação do livro “Povos indígenas no Brasil” a cada cinco anos desde então.
Mas o cenário mudou muito nesses últimos 40 anos. “Se antes tínhamos escassez, hoje a gente tem, como a Vanessa Apurinã disse antes, uma fragmentação. Há tanta informação, em tantos lugares, que a gente muitas vezes não consegue se entender”, disse Tiago.
Dados fragmentados e necessidade de plataforma própria
Ele retoma um ponto trazido por Vanessa Apurinã, gerente de monitoramento territorial indígena da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), que, em sua fala no painel, destacou a importância de olhar com parcimônia essa produção massiva de dados e onde eles estão disponibilizados.
“Informações sobre territórios indígenas na internet se tornaram algo sem controle. Existem múltiplas plataformas de fontes de dados, em que você escolhe o que quer ver: desmatamento, fogo, demarcação. Mas existem falhas – e eu pontuo como uma delas primeiramente a fragmentação desses dados”, relatou.
Vanessa chamou atenção para o fato de que é “muito fácil” desenvolver uma plataforma e puxar dados de diferentes lugares. Porém, nesse processo, o que tem acontecido é a invisibilidade justamente das pessoas que fazem o trabalho mais difícil, que é coletar essas informações lá no território. “A maioria delas são indígenas, extrativistas, ribeirinhos, quilombolas. Para termos todos esses dados, precisamos de gente na ponta”, disse. Além disso, ela aponta dificuldade dessas mesmas comunidades de acessarem os dados produzidos por elas uma vez que se encontram nessas diferentes plataformas.
“Às vezes, a gente precisa de autorização ou alegam que a Lei Geral de Proteção de Dados não permite. Ou seja, a gente levanta os dados para as pessoas se apropriarem deles”.

Por isso, a COIAB tem como proposta criar sua própria plataforma de dados e tem realizado um trabalho de empoderar as pessoas monitoras e que trabalham com diferentes ferramentas para aprimorar o trabalho de coletar informações. Mais ainda, ela acredita que faltam consequências e ações geradas a partir de toda essa massa de informações geradas.
“Quando os povos indígenas fazem um trabalho de monitoramento, eles têm uma intenção, que é de proteção dos seus territórios, de mostrar para o governo, para o Estado, que o seu território está sendo invadido, desmatado, garimpado, degradado. Queremos, então, a devolutiva disso em ações. Quantas ações foram feitas através dessas plataformas de monitoramento e que deram retorno, que tiraram o garimpo dos territórios dos mundurukus, dos ianomâmis em Roraima ou no Amazonas, ou dos parentes caiapós aqui no Pará?”, questionou Vanessa.
Produção de dados e monitoramento para defesa e gestão de território
Ariene Susui, jornalista e ativista indígena do povo wapichana, também vê que muita coisa mudou em relação ao passado, mas não o objetivo para o qual tanto a geração atual quanto os seus antepassados produziam e produzem informações sobre suas terras.
“Nossos avós e pais faziam essa documentação nas mãos, com caneta e papel, e produziam e compartilhavam esses dados sem mediação da tecnologia, pelas falas orais. Mas apesar desses momentos diferentes, o foco continua o mesmo: a demarcação, a luta e a proteção de nossos territórios”, disse.
Ela cita como exemplo grupos de proteção e vigilância territorial na Amazônia que fazem uso de drones, celulares, câmeras para produzir documentos e provas que dêem base a denúncias sobre o que está acontecendo no território.

Vanessa Apurinã também acredita que essa tecnologia tem sido importante para aperfeiçoar e facilitar o monitoramento – uma prática que, em si, não é nova para as comunidades indígenas.
“Para nós, o conhecimento de monitoramento é milenar. A gente faz monitoramento quando vai caçar, pescar ou vai no roçado. Porque temos uma coisa que vocês não tem, que é perceber o nosso entorno. Vocês entram em um ônibus ou um Uber e tem um motorista que leva vocês. Vocês perceberam o que havia de diferente no seu trajeto pra cá hoje?”, questionou ela.
Usando como exemplo a internet via Starlink, Ariane apontou ainda a importância de discutir a maneira como a tecnologia tem entrado nas comunidades a partir de uma perspectiva propositiva.
“A forma como ela chegou aqui mostra um atravessamento, ainda que essa ferramenta esteja sendo usada nos territórios. Temos que fazer um debate sério de políticas públicas, apresentando os problemas e trazendo as soluções, porque senão os mais afetados serão os povos indígenas”, disse.
Para ambas, a capacitação e formação de pessoas indígenas para o uso da tecnologia se faz cada vez mais necessárias, não apenas para a proteção do território, mas para a sua gestão, no sentido de mapear também as riquezas das terras, pensar a sua sustentabilidade e economia etc.
Também se faz urgente olhar para a proteção das pessoas que produzem dados e fazem denúncias – algo que tem sido negligenciado pelas autoridades e pelos debates. “São essas pessoas que estão colocando em risco as suas vidas, ao documentar tudo e fazer essas denúncias chegarem nas autoridades”, lembrou Ariane.
Por um jornalismo que olha para novas perspectivas e interpretações
Kalynka Cruz, doutora em Sociologia, professora e mediadora do debate, reforçou a qualificação do debate sobre esse tema a partir do olhar para o risco ao colonialismo digital e para políticas públicas.
“A grande discussão aqui não é o acesso à internet, às tecnologias. Mas é onde está a governabilidade. Esse é o movimento correto de se apropriar dessa questão, sem esbarrar nas limitações. Além disso, não podem mais existir pesquisa ou produção de dados na Amazônia sem um posicionamento decolonial, porque os dados são de vocês. Ela deve trazer o papel de corresponsabilidade nesse levantamento, e não é um favor, mas sim um direito dos povos indígenas”, disse.

À luz do atual cenário de muitas informações, tecnologias e plataformas, Tiago Moreira falou sobre o papel do jornalismo de dados de garantir que a narrativa dos fatos vá além desses dados brutos e saiba trazer novas perspectivas.
“O jornalismo de dados tem um papel bastante fundamental para a sociedade civil e para a sociedade como um todo de poder produzir interpretações de toda essa massa de dados que está por aí. Os dados não vão diminuir, vão só aumentar, já que todos nós viramos autores: o ISA, a Coiab, o Greenpeace, o Estado”, lembrou. “Eu acho que é uma obrigação de quem está trabalhando com esses dados buscar a narrativa dos povos indígenas sobre essas informações, para colocar os dados no chão, no lugar onde estão acontecendo e sendo produzidos”.

LOCAL
Auditório David Mufarrej
NÍVEL
Básico.
PRÉ-REQUISITOS
Não há pré-requisitos.

Ariene Susui
Povo Wapichana, ativista indígena, atua desde os 14 anos no movimento indígena pela participação dos jovens e das mulheres nas discussões políticas, ambientais e educação. Co-fundadora da Rede de comunicadores indígenas de Roraima Wakywaa. Graduada em Comunicação Social-jornalismo e Mestre em Comunicação pela UFRR. Foi assessora de comunicação do Conselho indígena de Roraima, atuou como técnica de comunicação na Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e atualmente atua como jornalista independente com foco na Amazônia.

Kalynka Cruz
Doutora em Sociologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS/ Paris) e Sorbonne Paris V. Tem Mestrado multidisciplinar em Tecnologias da Inteligência e design digital (PUC-SP) com ênfase em Semiótica cognitiva. Tem especialização em arte-educação e novas mídias (UnB). Graduou-se em Comunicação Social (UFPA), Jornalismo. Desenvolve pesquisas sobre cibercultura, manipulação e sociabilidades no ciberespaço, além de netnografia e outros métodos de investigações digitais. Coordena regionalmente o “Observatório Insterinstiticional em cibercultura e os povos dos rios e da floresta”, pesquisa de Pós-Doutorado realizada em rede em parceria com a PUCSP e a UFBA. É professora efetiva desde 2009.

Tiago Moreira
Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina trabalho desde 2011 no Programa Povos Indígenas no Brasil do Instituto Socioambiental onde é responsável pelo levantamento de dados informações sobre povos e terras indígenas e manutenção de banco de dados, o Sistema de Áreas Protegidas. Também é editor do site Terras Indígenas no Brasil e colaborar dos sites Povos Indígenas no Brasil e Povos Indígenas no Brasil Mirim e co-editor da ultima edição do livro Povos Indígenas no Brasil (2017-2022).

Vanessa Apurinã
Gerente de monitoramento territorial indígena.

Visite o site da edição anterior. Confira o site do Coda.Br 2023.
![]() Nosso conteúdo está disponível sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, e pode ser compartilhado e reutilizado para trabalhos derivados, desde que citada a fonte.
Nosso conteúdo está disponível sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, e pode ser compartilhado e reutilizado para trabalhos derivados, desde que citada a fonte.